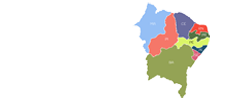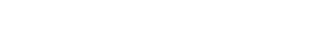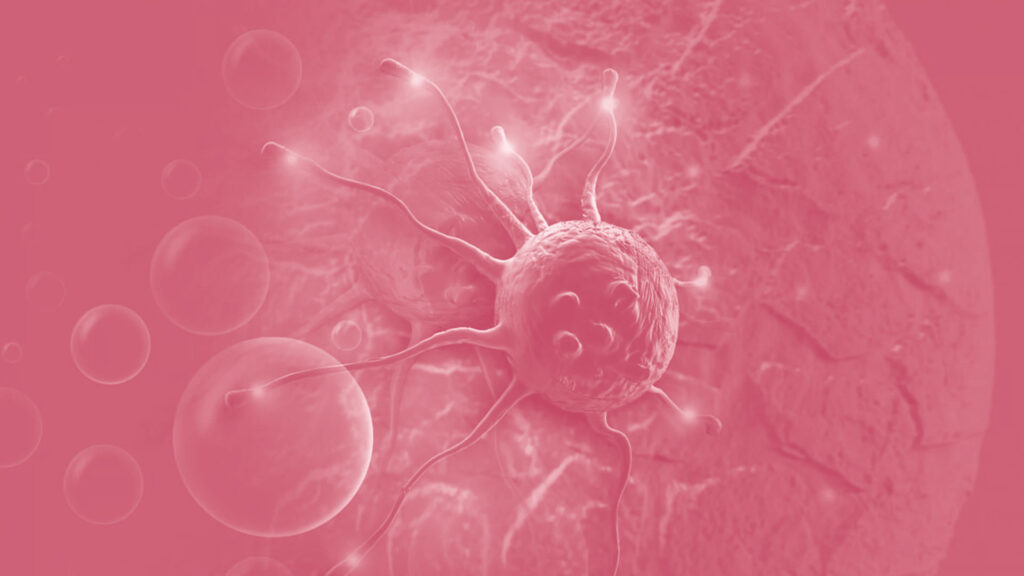A anemia de Fanconi (AF) é uma doença hereditária rara, de origem genética, caracterizada por uma falência progressiva da medula óssea, resultando em produção insuficiente de células sanguíneas. Essa disfunção hematopoiética leva ao desenvolvimento de pancitopenia, condição em que há uma redução simultânea no número de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas, comprometendo diversas funções do organismo, como a oxigenação tecidual, a defesa imunológica e a coagulação sanguínea. Neste artigo, vamos detalhar as causas da Anemia de Fanconi, os sintomas, como diagnosticar e como é feito o tratamento desta doença.
História da doença
A anemia de Fanconi foi descrita pela primeira vez pelo pediatra suíço Guido Fanconi (1892-1979), que observou a condição patológica em crianças provenientes de vales onde a consanguinidade (fator responsável pelo aumento da frequência das doenças genéticas de transmissão autossômica recessiva), era mais frequente devido ao isolamento geográfico.
Causas da Anemia de Fanconi
As mutações nos genes da família FANC representam a principal causa da anemia de Fanconi. Esses genes codificam proteínas envolvidas em um complexo sistema de reparo de danos no DNA, especialmente os causados por ligações cruzadas entre fitas. Quando mutações ocorrem nesses genes, o mecanismo de reparo torna-se ineficaz, resultando em instabilidade genômica, que leva à morte celular prematura ou à proliferação anormal de células. Até o momento, mais de 22 genes associados à via de reparo da anemia de Fanconi foram identificados, sendo o FANCA o gene mais frequentemente acometido, responsável por cerca de 60% a 70% dos casos. A forma mais comum de herança da doença é autossômica recessiva, o que significa que o indivíduo afetado herda uma cópia do gene mutado de ambos os pais, que geralmente são portadores assintomáticos.
As mutações nos genes FA comprometem o sistema de reparo que atua na manutenção da integridade do DNA, levando ao acúmulo progressivo de danos que predispõe os indivíduos a um risco significativamente aumentado para o desenvolvimento de neoplasias hematológicas e tumores sólidos, especialmente leucemia mieloide aguda.
Clínica
A gravidade e a expressão dos sintomas da anemia de Fanconi podem variar amplamente entre os indivíduos afetados, sendo essa variabilidade possivelmente associada ao tipo de mutação presente no gene FANC envolvido. Os sinais clínicos mais comuns incluem fadiga, sangramentos e infecções frequentes, todos decorrentes da falência progressiva da medula óssea e da consequente pancitopenia. Além das manifestações hematológicas, alterações físicas congênitas estão presentes em aproximadamente 60% a 75% dos pacientes. Entre essas anomalias, destacam-se a baixa estatura, malformações nos polegares, manchas cutâneas hiperpigmentadas e anomalias renais. Essas características fenotípicas, quando presentes, podem servir como sinais clínicos importantes para o diagnóstico precoce da doença.
Tratamento da Anemia de Fanconi
O manejo da anemia de Fanconi é predominantemente paliativo e visa controlar, principalmente, as manifestações hematológicas, de forma que o transplante de células-tronco hematopoéticas (transplante de medula óssea) representa a única possibilidade de cura. Assim, as transfusões de hemácias e plaquetas podem ser indicadas em situações de anemia grave ou sangramentos.
Entre os medicamentos utilizados como suporte hematológico estão os fatores estimuladores da medula óssea, que promovem o aumento da produção de neutrófilos e ajuda a prevenir infecções. Em alguns casos, pode-se recorrer à terapia com fármacos que estimulam a produção de células sanguíneas. Além disso, cirurgias reparadoras podem ser indicadas para corrigir malformações congênitas que resultem em complicações na qualidade de vida do paciente.
Qual a diferença entre a Anemia de Fanconi e a Anemia Falciforme?
Acho que não precisa falar sobre essa diferença, a expressão clínica delas são muito diferentes e doença falciforme não está dentro do diagnóstico diferencial de síndrome de falência medular (af, diamond blackfan, disqueratose congênita, gata2, trombocitopenia megacariocítica congênita…).
Apesar de ambas serem doenças genéticas, a anemia de Fanconi e a Anemia Falciforme possuem diferenças bem claras. Um aspecto que diferencia as duas doenças é a incidência de cada uma. Enquanto a Anemia de Fanconi é uima doença rara, que apresenta em média, 1 caso a cada 160 mil pessoas no mundo, a Anemia Falciforme é mais comum, com incidência em cerca de 100 mil pessoas só nos Estados Unidos e 8 milhoes de pessoas no mundo, segundo dados do National Heart, Lung and Blood Institute.
A origem de cada doença também é diferente. Como dito acima, a Anemia de Fanconi se relaciona com a má formação de aproximadamente 20 genes. Já a Falciforme é causada por uma mutação no gene da hemoglobina beta (HBB), o que leva à produção de hemoglobina S, responsável por deformar os glóbulos vermelhos em forma de foice (falciformes). Outro aspecto típico da anemia Falciforme é ser uma doença autossômica recessiva mais prevalente em populações afrodescendentes.
Porém, as duas apresentam algumas semelhanças no tratamento, sendo possível recorrer a transfusões de sangue ao longo do processo e ao transplante de medula óssea – esse, inclusive, é o único meio curativo para a Anemia de Fanconi, enquanto para a Anemia Falciforme, ele é recomendado em apenas alguns casos.
Diagnóstico laboratorial
Um dos principais exames utilizados no diagnóstico da anemia de Fanconi é o teste de fragilidade cromossômica, realizado a partir da cultura de linfócitos obtidos por amostra de sangue periférico. Esse teste consiste na exposição das células a agentes alquilantes como o diepoxibutano (DEB) ou a mitomicina C (MMC), substâncias capazes de induzir quebras cromossômicas em células com deficiência no reparo do DNA – característica típica da anemia de Fanconi.
Pacientes com AF apresentam um número significativamente elevado de quebras cromossômicas e formação de rearranjos complexos, como fragmentos e figuras radiais, quando comparados a indivíduos sem a doença. O teste é considerado altamente sensível e específico, sendo o método mais amplamente utilizado como triagem inicial para o diagnóstico.
Além do teste citogenético, o diagnóstico molecular é fundamental para a confirmação identificação da variante envolvida. Isso é realizado por meio de técnicas de sequenciamento genético, como por sequenciamento de nova geração (NGS), geralmente utilizando painéis multigênicos direcionados para os genes da via FANC. A detecção das variantes patogênicas permite não apenas confirmar o diagnóstico, mas também orientar o aconselhamento genético familiar, a triagem de irmãos e potenciais doadores de medula óssea, e a investigação pré-natal, quando aplicável. Em casos duvidosos ou com resultados intermediários no teste de fragilidade, o exame molecular é essencial para elucidar o diagnóstico.